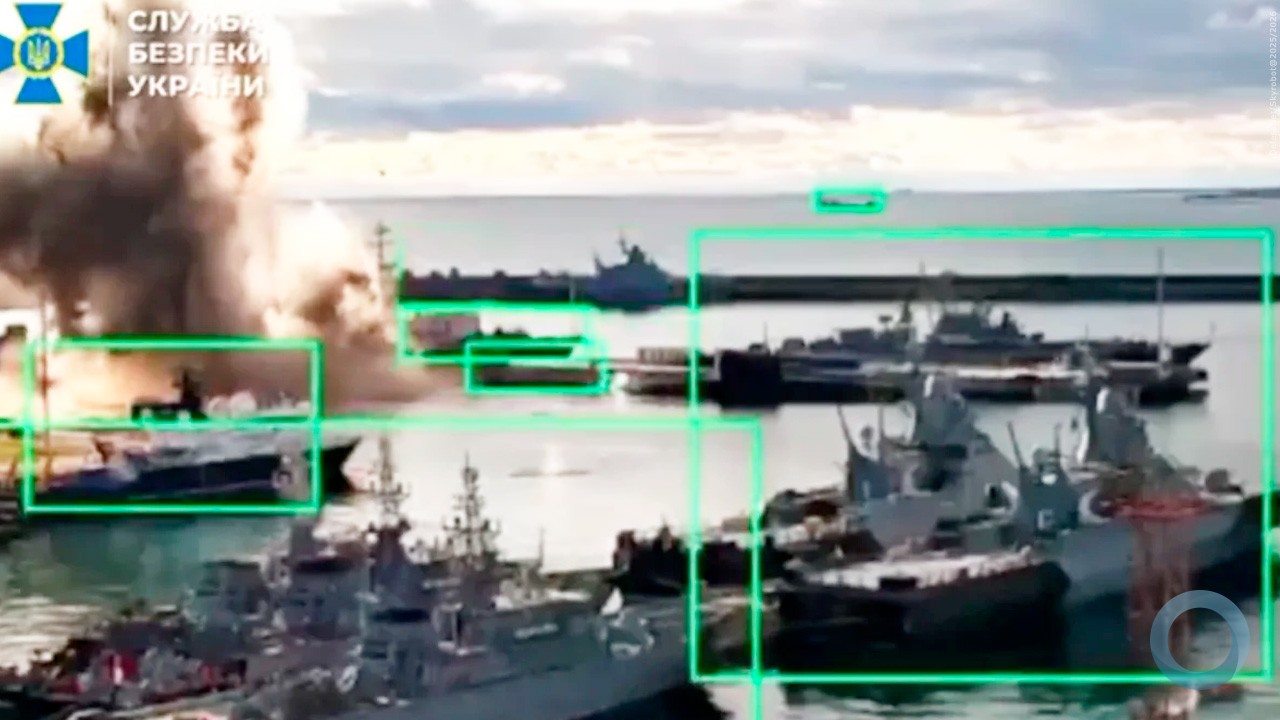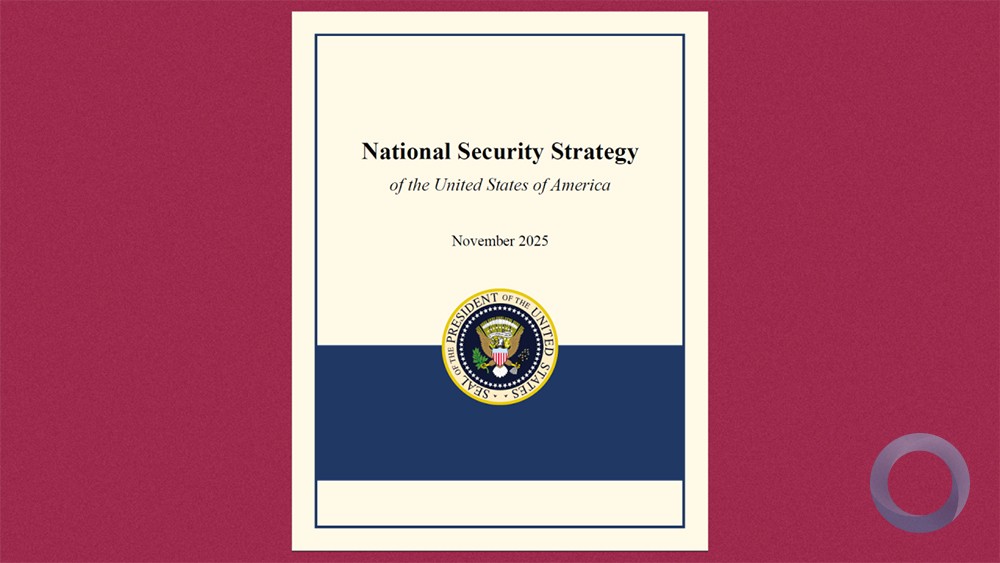Por Micah Zenko – Texto do Foreign Policy
Tradução, edição, adaptação e título – Nicholle Murmel
No último dia 19, seis semanas após os os Estados Unidos iniciarem a ofensiva aérea a alvos do Estado Islâmico, a França anunciou que aeronaves Rafale haviam destruído um depósito de suprimentos dos extremistas no nordeste do Iraque. Dessa primeira leva de ataques emergiu a coalizão multinacional contra o ISIS. Desde então, oito países bombardearam alvos supostamente ligados ao EI no Iraque e na Síria, ou declararam que realizariam ataques no futuro.
A formação repentina dessa coalizão – um grupo de países que não concorda em nada além do combate aos extremistas – e a participação na campanha contra o Estado Islâmico é notável, mas não surpreendente. Muitos desses governos já tinham gana de intervir na guerra civil da Síria havia anos e, mais recentemente, de atacar diretamente o ISIS. Ainda assim, foi só após o presidente americano Barak Obama autorizar os primeiros bombardeios que os demais países se mobilizaram, tendo assegurado o poder total das forças americanas para dar suporte.
A Casa Branca divulgou a formação dessa aliança como prova de que o governo atual está evitando o erro cometido por George W. Bush com a aproximação unilateral do conflito e ocupação do Iraque nos anos 2000. Apesar de 38 nações terem enviado soldados ao Iraque na época, a maioria não serviu em postos de combate – 93% dos combatentes mortos eram americanos. Foi prometido aos cidadãos dos EUA que desta vez será muito diferente. Conforme declarou o secretário de Defesa, Chuck Hegel “uma coalizão ampla vem sendo e continuará a ser o cerne da nossa estratégia contra o Estado Islâmico”.
Obama merece crédito por buscar essa abordagem. Se o presidente acredita que intervenção militar seja uma boa ideia, então dividir o ônus e expandir a legitimidade política do processo é uma medida sábia. Autoridades americanas até mesmo reconheceram que a Síria não seira bombardeada sem a participação de outros países.
Isso posto, e cosiderando as afirmações do Pentágono de que o componente militar contra o ISIS levará anos, os americanos devem ter cautela dainte de tantos elogios para a coalizão. As contribuições e os compromissos dos parceiros fatalmente variam ao longo do tempo e à medida em que cada nação recalcula seus interesses, busca diminuir ameaças ou simplesmente acabam o dinheiro e as bombas. Há toda razão para acreditar que esse será o caso com os parceiros que atualmente apoiam e conduzem ataques aéreos junto com os EUA.
Em primeiro lugar, o governo Obama enfatiza que apenas ataques aéreos não vão derrotar o ISIS, e o compromisso com poder militar dinâmico e tropas em terra é a ação mais significativa e cheia de consequências que um membro da coalizão pode assumir.
O efeito de bombardear pessoas e coisas é imediato, gráfico e fácil de documentar, diferente de outras atividades mais concretas e insidiosas, como prevenir a propagação de ideologias extremistas. Cada país deve ser responsável por qualquer dano colateral causado ou por não-combatentes lesados pelas bombas. Assim, ainda que o Departamento de Estado americano enfatize a contribuição não-militar de 55 países para conter o Estado Islâmico, é importante prestar atenção àqueles que participam voluntariamente de operações reais de combate.
Em segundo lugar, é preciso tomar cuidado com a possibilidade de esses parceiros retrocederem em seus compromissos ou mesmo abandoner a coalizão – não seria a primeira vez. Em abril de 1991, foi formada uma parceria entre Reino Unido, EUA e França para estabelecer uma zona de exclusão aérea (ZEA) sobre o território iraquiano ao norte do Paralelo 36 – um ano depois, foi estabelecida outra zona de exclusão também no Iraque, ao sul do Paralelo 32. Mas na prática, apenas as aeronaves americanas atacaram as baterias e radares antiaéreos iraquianos quanto a coalizão foi ameaçada.
Outro exemplo: em 1996, quanto Washington e Londres anunciaram que a mesma zona de exclusão seria extendida até o Paralelo 33, a França se recusou a patrulhar nessa nova área. Logo em seguida Paris abandonou as duas ZEAs, alegando que medidas tomadas com caráter a princípio humanitário haviam se tornado ferramentas para punir Saddam Hussein.
Da mesma forma, a ofesiva aérea de 2011 sobre a Líbia começou com oito nações contra as forças de Muammar al-Qaddafi. Mas cinco membros tiveram que reduzir o ritmo dos ataques em várias ocasiões por falta de munição. A Dinamarca tinha limitação em termos de inteligência para adquirir os alvos, o que restringiu sua capacidade de bombardeio. França e Itália retiraram seus porta-aviões da região após cinco meses, e a Noruega se retirou após seis meses porque, conforme o ministro da Defesa, Grete Faremo, delcarou na época, o país não podia “manter uma grande contribuição em termos de aeronaves por um longo período”.
Em 28 de março de 2011, o presidente Obama declarou que “Os Estados Unidos terão papel de apoio – incluíndo inteligência e apio logístico, auxílio para busca e salvamento e ferramentas para desbaratar sistemas de comunicação do governo [da Líbia]”. Não foi supresa que, por conta da superioridade militar e tecnológica, os EUA acabaram desempenhando tanto as funções de apoio quanto de liderança. E devemos esperar a mesma dinâmica na campanha contra o Estado Islâmico agora.
Em terceiro, é bom ter cuidado com as advertências nacionais – aquelas regras de engajamento que restringem o que forças militares podem fazer em um país estrangeiro. No Afeganistão, países integrantes da Força Internacional de Asssistência para Segurança (ISAF) enviaram contingentes com uma série de instruções intrincadas sobre onde, quando e como oerar. As medidas incluíam: proibição de operações noturnas, de patrulhas de combate além de uma determinada distância das bases militares e hospitais, nada de ataques aéreos nem de patrulhas conjuntas com cidadãos afegãos.
Um coronel do Exército americano que comandou uma brigada no leste do país em 2009 me contou mais tarde como seus solados se esforçaram para criar tarefas menores que as forças da ISAF pudessem efetivamente realizar. Por se tratarem de funções não relacionadas ao combate, esse processo aumentava os riscos para as tropas americanas em terra, que rebatizaram a ISAF de “I Saw Americans Fighting” – “Eu Vi Americanos Combatendo”.
Como era esperado, essas mesmas restrições parecem estar embutidas da coalizão anti-ISIS. Nações europeias declararam que só conduzirão ataques aéreos no Iraque, ao mesmo tempo em que as nações árabes bombardeando a Síria destruíram quase que somente alvos estáticos, como depósitos, campos de treinamento e refinarias de petróleo.
Se o grosso dos recursos e combatentes do Estado Islâmico recuar para o território sírio, as Forças Aéreas da Europa concordarão em atacá-los lá? À medida em que o ISIS se torna mais móvel e disperso, os alvos serão mais dinâmicos e abatê-los será cada vez mais uma questão de timing. Nesse caso, os governos das nações árabes se comprometerão com mais aeronaves e assumirão mais riscos aos não-combatentes para destruir as forças do Estado Islâmico em constante adaptação?
Conforme Sarah Kreps, professora de governança da Cornell University, aponta em seu livro Coalitions of Convenience – United States Military Interventions after the Cold War (Coalizões de Conveniência – Intervenções militares dos Estados Unidos após a Guerra Fria), há dois fatores principais que determinam porque países articulam e participam de coalizões: “primeiro, há o horizonte temporal de uma nação, o qual está em função do quão direta é a ameaça. Em segundo, o comprometimento operacional, ou o quão intensa em termos de recursos a intervenção será”. Se considerarmos esses dois aspectos, não foi coincidência o fato de só os EUA terem bombardeado alvos do grupo Khorasan, já que nenhum dos outros membros da aliança considera esse punhado de extremistas uma ameaça.
Os Estados Unidos devem receber bem, masserem cautelosos com o que Obama descreveu como “uma coalizão internacional sem precedentes”. Nos meses após o 11 de setembro, o então secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, frequentemente apontava como 90 países estavam participando na “maior coalizão da História” para a guerra ao terrorismo. Esse nível inicial de comprometimento se dissipou ao longo do tempo e enquanto os EUA travavam sua Guerra ao Terror de uma forma à qual muitos membros da aliança se opunham na época. Rumsfeld também gostava de dizer que “a missão determina a coalizão, a coalizão não pode definir a missão”.
Uma previsão fácil de fazer é que, em algum momento, alguns membros dessa aliança contra o Estado Islâmico vão querer redirecionar seus ataques aéreos contra o regime de Bashar al-Assad na Síria. E quando isso se tronar a missão, o que será da coalizão?